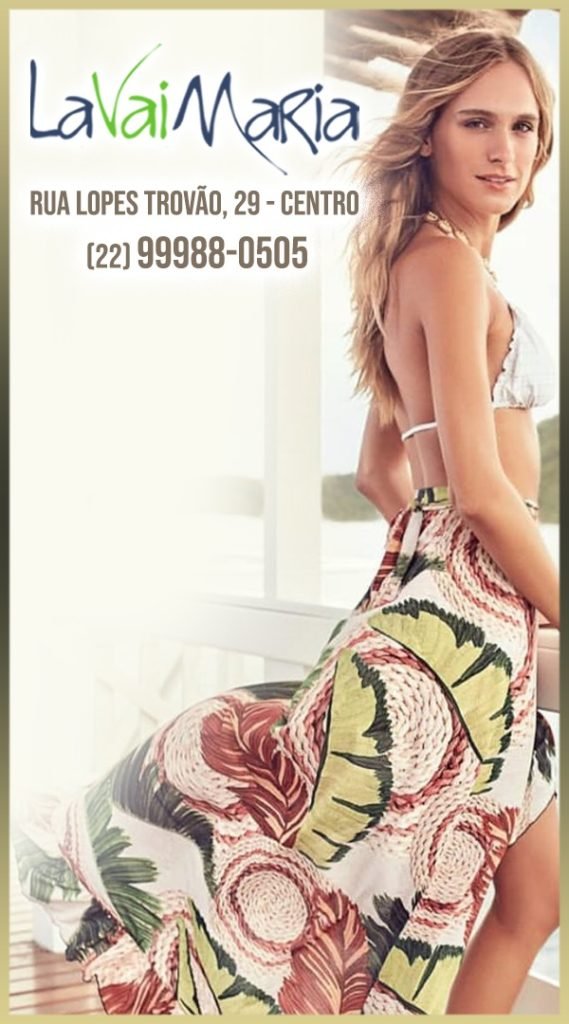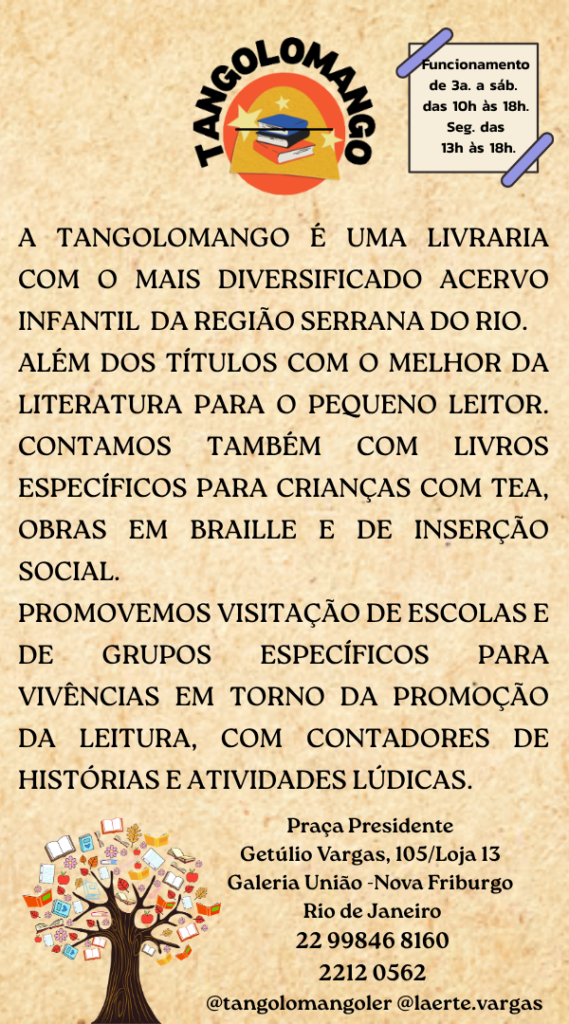Entrelinhas – Espaços em branco, por Déborah Simões

Olha, eu queria começar o texto com qualquer coisa positiva para atravessar esses tempos, o ego desses tempos. Eu queria dizer meu verso preferido do Manoel de Barros tantas vezes até que as nossas insignificâncias fossem soterradas por algo mais significativo que apartamentos trancados – pessoas obrigadas de si mesmas. Talvez, assim, as palavras inaugurassem uma esperança presente, daquelas que Drummond tanto desejou que tivéssemos de “mãos dadas”. “Não nos afastemos muito”, lembra?
Então, no segundo parágrafo, eu poderia arriscar que nada vai ficar bem e que, por isso, precisamos inventar um bem dentro de nós – todos os dias. Mesmo que os lábios tremam um pouco, mesmo que as palavras tenham sido esvaziadas diante de tanta informação, mesmo que, de repente, olhar as paredes, que sempre protegeram, seja um sufoco coletivo. E esse bem inventado dentro de nós seria uma maré mais segura para termos fôlego entre as saudades imprevistas que dominam os domingos no sofá, domingos de solidão. Contudo, uma solidão da qual já não brota força, sabe, Clarice? – e, para muitos, todo dia de quarentena é um domingo de tempos acumulados.
No terceiro parágrafo, eu tentaria trazer alegria. Não o substantivo abstrato e simples e tão desvalorizado no mercado das palavras. Eu ensaiaria a “Alegria, alegria” tropicalista, um cotidiano de última hora que me faria ser capaz de estampar felicidade, mesmo numa época em que o muito sobrecarrega desvario e tristeza. “Eu quero seguir vivendo, amor” soaria um chão mais firme. E esse chão, quem sabe, convidaria alguém da outra janela a pensar “por que não? ”. Soou bobo, penso agora, mas vou deixar escrito assim, já que todas as teorias falharam de repente.
No quarto parágrafo, decidiria me abrigar nas dúvidas. Pela primeira vez, o muro não pareceria um lugar covarde. Na verdade, o muro teria pouca gente. As ilhas estão cada vez mais cheias e cada vez mais distantes e cada vez mais em direção ao horizonte que nos engole. Ninguém quer sair da ilha para poder ver a ilha, Saramago. Ninguém quer o confronto sobre si mesmo. E eu, diante de tanto barulho, aceitaria que não sou obrigada a escolher o lado de uma guerra com a qual não comungo. A guerra cujos gritos são gargantas envelhecidas dos engasgos que nos trouxeram até aqui. Até à ausência da noção do absurdo. Eu decidiria me abrigar nas dúvidas. Um lugar mais calmo. Um lugar paradoxalmente mais calmo. Entende?
No quinto parágrafo, eu olharia a minha filha chorando pela porquinha da índia que morreu. Um choro que só acalmaria quando ela pintasse um céu colorido para a Jujuba viver em paz. Talvez, mais do que isso: um céu para ela mesma olhar e entender que é hora de seguir. Não há coisa pior do que o desejo de esquecer o luto. E eu, professora de literatura sem nenhuma pretensão de afirmar a salvação pela arte, perceberia que esta, pelo menos, pode ensaiar a hipótese minúscula de uma compreensão.
No último parágrafo, admitiria que evitei todas as inúmeras listas com dicas de leitura para o isolamento social. Criei uma aversão a dicas sobre “o que fazer” durante esse período – mas não por rebeldia, muito menos por ausência de demanda. Abri e fechei seis livros sem conseguir me concentrar em nenhum. Abri e fechei o arquivo de um livro que escrevo sem conseguir mexer em muita coisa. A quarentena não foi um tempo de muitas leituras, de novas ficções. Imagine o transtorno disso num mundo que, de repente, posta fotos e mais fotos de capas lidas. Por isso, são 12 dias tentando finalizar o parágrafo de um texto sobre leitura e pandemia. Trazer Drummond, Manoel, Clarice, Saramago, Tropicália e Laís foi um jeito de dizer que o isolamento social não aconteceu entre leituras inéditas. Foi tempo de assimilar palavras passadas. Foi tempo de deixar os espaços em branco em branco.
Déborah Simões é Mestre em Estudos da Literatura pela UFF, mediadora pedagógica do curso de Letras-UFF do CEDERJ e professora da área de Língua Portuguesa em escolas da rede particular.