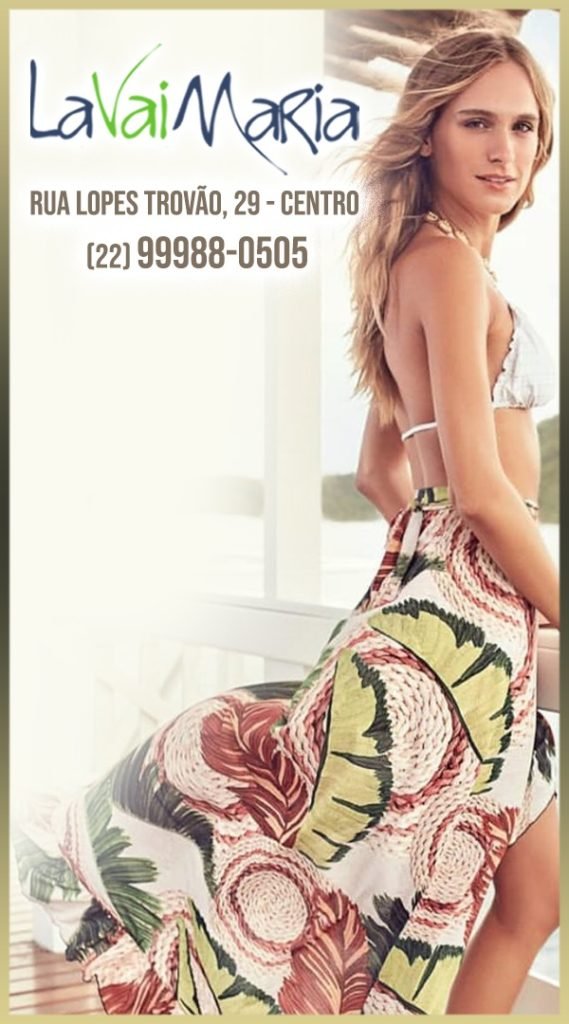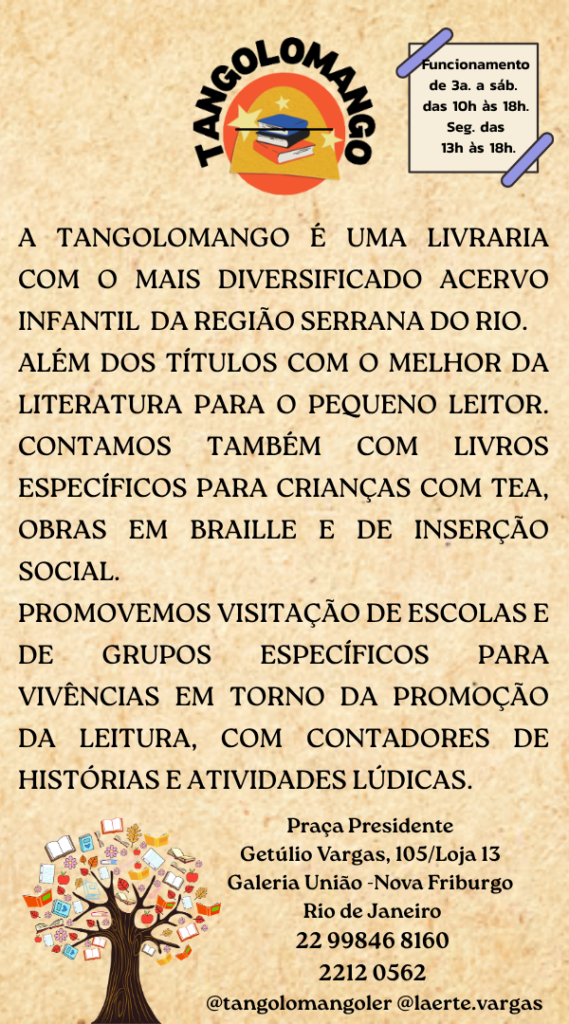Entrelinhas : Oi, meu nome é Ana Blue e eu defendo a renda básica universal

“Essa quarentena tá te fazendo bem”, meu amigo me disse ainda há pouco pelo WhatsApp. Senti a cara arder de vergonha. Porque ele tem razão, e eu preferiria que ele não tivesse razão. Quer dizer. Eu não queria estar mal não, sabe, tô é contente de estar bem agora, trabalhando, funcionando; meu ano começou estranho, ele presenciou. Mas algo em mim me diz: parece deselegante estar contente hoje. Ostentar esses bolos bonitos cheios de cobertura no Instagram, com esse monte de gente morrendo — de dor, de fome, de luto, de vírus ou por causa do seu CEP e sua cor.
É que se eu fosse traçar um comparativo entre esse ano e o que passou, na minha vida, eu diria que realmente vou indo bem. Só gritei uma vez, e não foi pra me fazer ouvir. Foi irritação, porque Davi, meu filho, esqueceu uma janela não telada aberta e a nossa gatinha fugiu. Mônica, a vizinha da direita, acenou que Mary Jane, a gata, estava no seu jardim. Trouxe ela, toda dengosa, de colinho, peluda que só. Parei de gritar instantaneamente. Faz semanas isso. Agora é silêncio — e Dakhabrakha, um trio ucraniano que tô escutando no repeat há meses. Entrecortados por meias-vozes das aulas online das crianças.
Não quebrei nenhuma louça da casa motivada por fúria momentânea com o conje e tive um total de zero idas ao Raul Sertã no meio da madrugada achando que ia infartar por causa de molejo de amor machucado e a tristeza de me saber mulher, pronta apenas para amar, para sofrer pelo meu amor e pra mandar muito ele para a casa do cacete. Eram coisas que me aconteciam no ano passado, quando ainda estava casada, em agosto, setembro. Em dezembro, como dizia Dona Magdalena, minha vó, acabou o amor, acabou o milho, acabou a pipoca. Na véspera de ano-novo.
Nós estávamos juntos há dois anos. Eu o conheci em um dia terrível de 2017. Tinha acabado de ser demitida, literalmente. Saí da sala da chefe e fui direto encontrar esse amigo, que citei ali em cima, pra chorar a minha desgraça, mas fui apresentada a esse meu ex no meio do caminho. Para meu deleite quando ainda era funcionária do lugar, mas total desconforto quando fui desligada, morava eu num prédio vizinho à empresa. Vivia em pânico: pânico de passar toda desgrenhada por algum antigo colega, pânico de trombar com os ex-chefes, pânico de estar de bermudinha e chinelo às quatro da tarde pelas ruas do Centro. Pânico de estar por aí à toa, porque eu trabalho desde os treze anos de idade. Pânico, pânico. A sociedade pergunta toda hora: tá trabalhando com o quê, tá fazendo o quê, tá ganhando dinheiro? Às vezes nem pergunta: ela olha pra você e sabe que não. Ter começado a namorar com ele nessa época me ajudou a não pensar nisso tudo, nem bambear as pernas quando eu eventualmente encontrava alguém da empresa. Nem pensar em dinheiro, em dívida, em dor, em derrota.
Desempregada sim, mas transante à beça, de namoradinho novo inclusive, dormindo e acordando a hora que quisesse principalmente, levando e buscando as crianças na escola todos os dias graças a Deus. Livre das toxicidades corporativas, minha pele estava um cetim. Logo que me recompus fui convidada para fazer a editoração de uma revista comercial. O trabalho consistia em realizar cerca de quinze entrevistas num espaço de três meses, com empresários de diversos ramos. Trabalhava de casa e só tinha compromisso com os prazos e com essas externas. Voltei a assistir séries novas. Sempre paro de assistir séries novas quando não estou trabalhando. Parece que não tenho direito a diversão, não sei explicar. Foi uma maravilha essa vida de frila — até meu consagrado ser atropelado e precisar de uma cirurgia, o que me fez passar uns dias sem dar retorno de uma entrevista. Aquela edição era para dezembro, só. Estávamos em outubro. Mesmo assim fui dispensada — foi ali que eu descobri que o frila não pode viver intempéries.
Logo em seguida, topei o desafio profissional de escrever uma biografia que não é a minha. Vou emprestar minha maneira de contar histórias para um artista, músico, maestro, performer, professor, amigo que, como eu, parece que já viveu um milhão de vidas. Além deste livro, de maneira geral, redações e revisões foram os meus ganhos em 2019. Mas trabalhar só em casa tem seus males também. A cama tá logo ali, chamando pro abate; o fogão, a pia cheia de prato são monstros visíveis. Precisava me adaptar e aprender a funcionar sem coordenação externa mas com muita interrupção — em plena dor de cotovelo de um namoro que visivelmente estava indo para o beleléu.
Não tinha um espaço separado para mim e eu dividia o computador com todos da casa. Passei a trabalhar de madrugada. Durante o dia, estava cansada, dorminte, camisolenta, como diz a Elisa Lucinda, pegando nos afazeres domésticos quase de noite. O ex-conge trabalhou em diferentes empregos nesses períodos, e teve horários peculiares também. Sempre fez a parte dele nesses afazeres; era afetuoso, generoso. Mas, mesmo assim, começamos a nos desencontrar — em tudo. O amor é lindo mas nem sempre é para sempre. Cheia de coisas para escrever, minhas e dos outros, foi o período da minha vida em que eu menos escrevi. Ele estava o tempo todo do meu lado e eu o adorava, e ainda assim não sentia conexão nenhuma com ele, por nenhum segundo que fosse. Também não me concentrava com ele por perto. Ter um marido era ter uma obrigação de civilidade, pé no chão. Maries Claires ensinam religiosamente essa cartilha de comportamento feminino desde 1937, mas eu não aprendi. Eu sou passarinha surda e desastrada, que quando bate as asas derruba e quebra tudo em volta, em vez de arrumar. Já entendi que o meu chão é o meu voo solo no céu.
Comecei a enviar currículos ainda em 2019, prevendo o caos e a desordem do fim do amor — e com isso a possibilidade de ter que arcar com despesas muito altas somente com frilas eventuais. Ao mesmo tempo, hoje eu sei, continuava agarrada a uma genuína e profunda mas já ressecada esperança de que os nossos problemas simplesmente sumissem e voltássemos a ser aquele casal que andava por aí de bicicleta, de chinelinho em dia de semana, chupando picolé. Ele já estava bem encaminhado num emprego novo. E eu procurava emprego morrendo de medo de encontrar. Há tanto tempo trabalhando de pantufa, na minha cadeira, com a minha cachorra Nina Hagen agarrada em mim que nem uma almofadinha. Até que um dia a gente explodiu; a vizinhança toda ouviu. E aí quem sumiu foi a gente.
A certeza de que eu desempenho minha profissão direitinho quando estou sozinha em casa sempre me acompanhou, porque eu me dedico bastante. Leio e escrevo todos os dias, ainda que não seja algo relacionado ao trabalho. O ofício do escritor é constante, que nem a maternidade. Então, mesmo nesses momentos mais instáveis na vida, de separações e faltas, recomeços de pós-guerra e desempregos, eu respiro fundo, acendo um incenso de patchouli num vasinho ali na parede e repito a prece do meu santo padroeiro, Caio Fernando Abreu, que um antigo-perene amor me ensinou há muito tempo. “Relaxa, baby, e flui. Barquinho na correnteza, Deus dará”. Sei que as soluções vão aparecer; porque eu procuro por elas. “O que você procura está procurando você”, diz Rumi, poeta e teólogo persa. Foram muitas mesas divididas com muita gente que me amou, me ajudou a ficar de pé; sementes que eu sei que plantei.
Quando chegou a hora certa de descer na Estação O Amor Acabou, desci. Mas passei o mês seguinte inteiro em catarse, como quem está liberando uma toxina do corpo. Não fazia quase nada, não via quase ninguém, quase parei de procurar trabalho, fiquei com o freio de mão engrenado. Mas dor não combina com rendimento, foi pouco tempo. Estava triste mas parei de ficar triste e fiquei incrível depois, seguindo a sábia lição aprendida com Barney Stinson. Recebi apoios financeiros e materiais dos meus familiares e dos meus amigos na época. Respirei, acendi os incensos, fiz orações e etecétera.
Em março, como estava tendo umas ajudas esporádicas, criei com tranquilidade o conceito de uma oficina de arteterapia e apresentei para um Spa e um espaço terapêutico, com respostas positivas. Passei também a oferecer minhas artes na internet, quebrando uma velha insegurança de não saber se o que eu fazia era arte, ou se era uma reciclagem sustentável quase horrível. Gente ansiosa carrega um papagaio inimigo nos ombros o tempo todo, e ele diz muitas barbaridades. Se mete a crítico de arte também, e essa voz diz que tudo que você faz é horroroso. Mas não é não. Eu calo o bico do papagaio azul em cima dos meus ombros todo dia.
Aí a pandemia veio com tudo. Páh! Tacou as crianças dentro de casa, engavetou minhas ideias, me causou uns piriris diários com medo de morrer sufocada, sumiu com o dinheiro que ainda tinha no banco. Foram mais de 60 dias indo no máximo ao mercadinho, ou correndo no Caixa Eletrônico, tomando banho de álcool na volta pra casa. Tirava a roupa da porta mesmo e corria pelada pro banho. Enfileirava as compras para o devido lava-jato de álcool. Tudo muito normal — para filmes do Spielberg.
Me inscrevi no auxílio federal, o que pagaria ao menos o aluguel e as contas básicas. Entrei num tempo próprio, em suspenso, como se todo dia fosse domingo. Mas um domingo criativo, não de sofá e televisão. Nem tenho televisão. Todo dia quando eu acordo, penso: tem café? Tem pão? Manteiga? Leite? E almoço, já tem pronto, tem que fazer? São pelo menos vinte anos da via preparando refeições para a família. E são muito bons os dias em que acordo com tudo encaminhado. Que o que não tem, não falta. Ou é só ir ali no mercadinho buscar. Se tudo que me é cotidiano está resolvido, me sobra tanto cérebro pra pensar, pra criar as coisas, depois lapidá-las e então lançá-las ao público, não só como uma boa oportunidade de divulgação do meu trabalho, como também de negócio, diretamente. Já vendi uma parte das minhas artes então prontas e prestei serviços sólidos nessa quarentena, com potencial para crescimento — só porque eu tinha cabeça pra pensar.
Foi possível negociar orçamentos de trabalho com calma e me envolver em empreendimentos de médio prazo. E recebi o convite para integrar a equipe de um núcleo de pesquisa e ensino de processos fotográficos experimentais, como redatora, depois que fizesse a formação necessária. Se eu voltasse e contasse tudo isso para a Ana de janeiro de 2020, ela ia rir da minha cara.
Parece bobagem dito assim, mas essas têm sido as belezas dos meus dias, dos impostos bem empregados, destinados a garantir o mínimo para a subsistência das famílias brasileiras — ainda que os arrimos sagitarianos como eu sejam severamente punidos pelos calendários oficiais.
“Para quem tem uma boa posição social, falar de comida é uma coisa baixa. É compreensível: eles já comeram.” Bertolt Brecht
Não sei de onde tiram a ideia de que uma renda básica transforma as pessoas em, com o perdão do populacho, vagabundas. Pelo contrário: acho grande a probabilidade de a estabilidade financeira estar ligada ao humor e à capacidade funcional do sujeito urbano. Que chance tem um cidadão desempregado, cuja barriga dói de nutrição pobre, movida a glutamato monossódico e gordura vegetal hidrogenada, de encontrar as soluções de que precisa na vida para dispor de verdadeira autonomia? Uma pesquisa do Instituto Datafolha realizada no último mês de agosto revelou que, até aquele momento, 53% dos entrevistados afirmaram ter gastado os R$ 600 ou R$ 1200 do auxílio emergencial prioritariamente com a alimentação — entre as mães, foram 61%. Outros 25% puderam arcar com compromissos básicos como aluguel e contas de luz, água e internet. Os dados também informam que 56% dos que receberam o auxílio já tinham, ou então buscaram, uma fonte de renda segura além do benefício. Ou seja: não só utilizavam do recurso para suprir necessidades essenciais à existência, como também buscavam continuar trabalhando ou começar em um trabalho.
Segurança alimentar e de abrigo aos cidadãos, atrelados a um bom sistema de saúde e educação, deveriam ser prioridades essenciais de qualquer governo. É o mínimo de direitos garantidos para que o indivíduo funcione com dignidade: aí sim, a partir daí, todo mundo de barriguinha cheia e dormindo bem todo dia, consciente de si, do outro e dos direitos e deveres de todos, a nossa vida social poderia caminhar de forma minimamente justa. Algumas tentativas de se implementar uma renda básica universal já foram experimentadas por alguns países, como no Quênia, na Finlândia e na Holanda, e têm rendido bons números nos indicativos de qualidade de vida.
E que Deus segure a mão do SUS.
Se este tripé essencial já parece óbvio para o mundo anterior que conhecíamos, imagina nesse cenário pós-pandêmico que se avizinha, com o empobrecimento geral da população advindo da crise, que se alia às mudanças tecnológicas e a uma epidemia de doenças mentais e síndromes. As discussões sobre a implementação oficial de uma renda básica universal no Brasil são mais que necessárias, sim, mas eu digo mais: é preciso que a gente passe por um reposicionamento de antigas crenças. Quantas vezes apontamos dedos uns para os outros em vez de nos unirmos por uma causa em comum? Quantas vozes mais precisam gritar sobre a consciência de classe?
Eu me pergunto: ter direito garantido ao morar, comer e beber é coisa de vagabundo por quê?
Em alguns momentos já pensei que se eu e meu ex-namorado não tivéssemos tanto medo de depender financeiramente um do outro, nós poderíamos ter nos concentrado mais em buscar a felicidade juntos e crescer. E não tanto em dinheiro, pra bancar sempre tanta conta. Quantos amores não são destruídos pelo cansaço da inglória luta diária pelo pão? Embora eu tenha sarado, e só pense nele com gratidão agora, passados todos os estágios do luto, continuo não achando justo que as pessoas se percam no meio de tanto trabalho, tanto desencontro — que é pra quê? Pra passar a vida pagando coisas que são tão caras. Dois mil e vinte anos depois de Cristo e morrer e matar de fome, de raiva ou de sede ainda são, tantas vezes, considerados gestos naturais.
Ana Blue é antes de mais nada minha amiga querida e de quem sou fã. Super fã! Escritora e artista plástica. Poeta. Redatora e revisora independente. Tem trabalhado para a Lab Clube e se dedica às artes visuais com colagens das suas poesias em garrafas personalizadas.